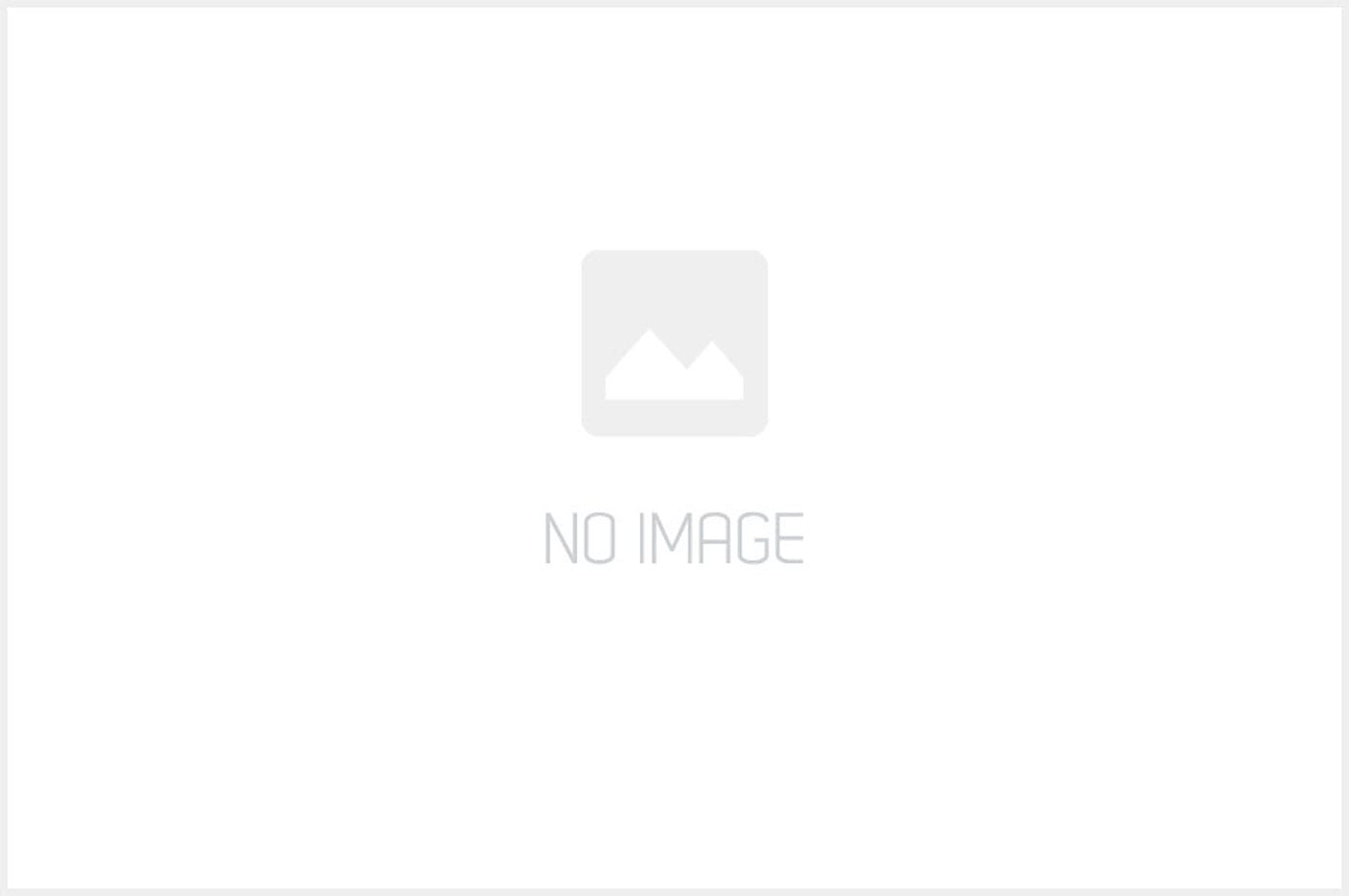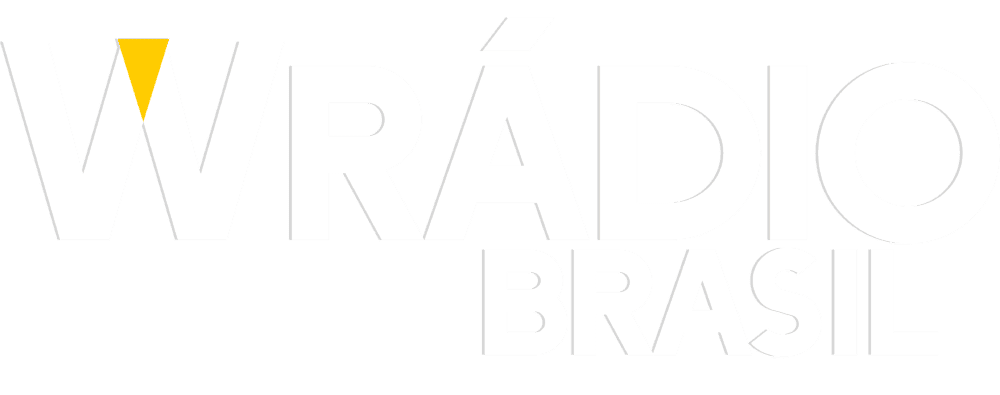Juntos há mais de doze anos, Sarita Bitu, 32 anos, e Vernon Bitu, 37 anos, decidiram exercitar, cotidianamente, a desconstrução de padrões de relacionamentos. Nos últimos anos, concordaram em deixar as portas abertas para que outras pessoas possam vir a fazer parte da família que constituem. A possibilidade de reconhecimento de relações poliafetivas como uniões estáveis, dentro das regras atuais, está sendo avaliada no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nessa terça-feira (22), a discussão foi adiada porque houve pedido de vista.
Bissexual, há cinco anos Sarita Bitu deu o pontapé na proposta de mudar a configuração que o casal mantinha, pois sentia vontade de se relacionar também com mulheres. Ela conta que o primeiro passo para a mudança foi desconstruir o machismo: “Tanto o dele quanto o meu, porque a gente é formado nisso, na ideia da competição de mulheres, do fetichismo de um homem vendo duas mulheres juntas, esse tipo de coisa”.
Em vez disso, passaram a dialogar mais e buscar viver a sororidade (relação de solidariedade entre as mulheres). “[É preciso] entender que a outra mulher que chegar não está ali para competir com você ou para roubar seu lugar, em relação à amizade e a tudo”, acrescenta. O aprendizado, diz ela, é diário, pois “você precisa detectar onde estão essas pontas do machismo, principalmente, e aí fazer a análise crítica e desconstruir”.
Há dois anos e já tendo vivenciado duas relações com uma terceira pessoa, Sarita e Bitu acordaram também viver uma relação aberta. Além da possibilidade de somar pessoas à relação, portanto, cada um passou a se permitir viver seus próprios encontros. A experiência não é fácil. Além da desconstrução cultural sobre as desigualdades de gênero, para ambos, um dos maiores desafios é enfrentar – e tentar superar – o ciúme. Para isso, passaram a conversar mais sobre o que sentem e aumentaram a atenção com o outro, para evitar também que as situações gerem mágoas.
Veja mais:
– Amazon começa a vender tecnologia de reconhecimento facial à polícia dos EUA
– Brasil acerta cooperação com os EUA para fórum de segurança para combate ao crime
Embora vivam em círculos sociais mais abertos a esse tipo de arranjo familiar, também enfrentam outra dificuldade: o preconceito. “Quando a gente fala em relação poliafetiva, a gente escuta gente dizendo ‘ah, mas isso aí é sacanagem, é suruba’. As pessoas não veem como relação de amor, não veem como relação de afeto, veem mais como alguma coisa de perversão sexual, promiscuidade. Por isso é importante a gente levantar a bandeira e dizer para a sociedade que existem outras maneiras de amar, de constituir família, que não são apenas aquelas tradicionais nem aquelas que, com muita luta, conseguiram se abrir”, diz Vernon Bitu, fazendo referência ao reconhecimento que já existe quanto às relações homoafetivas.
Auditor fiscal e estudante de Direito, Vernon defende que não cabe ao Estado definir como as pessoas devem viver suas vidas, por isso é contra a possibilidade de o CNJ impedir que cartórios reconheçam as relações formadas por mais de duas pessoas como relações estáveis. “A Constituição da República tem como princípio basilar a dignidade da pessoa humana. E se a pessoa humana não puder viver e constituir o núcleo básico de relação, que é a família, a República estará negando para esses cidadãos o ar de respirar, a sua dignidade”, avalia.
Convivência tripla
Em São Paulo, há sete anos Márcio Paresque, 36 anos, e Dan Portela, 29 anos, viviam uma união homoafetiva aberta. Conheceram, então, Eder Chaves, 35 anos, com quem passaram a se relacionar. Há um ano e meio, os três resolveram morar juntos. A decisão ousada foi pautada por uma ideia: relacionamento não é prisão, mas liberdade. E não há liberdade sem respeito.
“Entendemos a escolha de compartilhar a vida com alguém através de uma relação afetiva, seja tradicional ou múltipla, está atrelado ao sentimento de amor, mas, muito mais que isso, o de respeito, tolerância, disposição a somar sonhos, somar forças para os desafios da vida, a compartilhar vitórias e estar de mãos estendidas para os desafios e para os momentos difíceis”, relata Paresque.
Ele conta que a rotina tripla é semelhante à de outras famílias: todos trabalham, estudam, dividem as tarefas domésticas e as contas de casa. Formado em odontologia e estudante de doutorado em Ciências da Saúde, com ênfase na área de Saúde Coletiva, Paresque afirma que não sofre preconceito com frequência: “tentamos, no cotidiano, demonstrar que nossa relação é como qualquer outra. Se as amigas do trabalho estão na hora do almoço falando do marido, também falo do meu, aliás, dos meus. E desta forma as pessoas foram se acostumando com a ideia e não olhando mais com estranhamentos ou apontamentos”.
Paresque também considera pertinente o reconhecimento formal da união. Lembrando que sempre existiram arranjos afetivos diversos, ele avalia que agora, há menos medo de expor essas situações, do que decorre a possibilidade de reconhecimento, inclusive jurídico. Isso também viabilizaria a garantia de direitos a todos. “No nosso caso, apenas um tem direito a ser meu dependente em plano de saúde, de ser apontado na declaração do imposto de renda e por aí vai. É simplesmente igualdade de direitos. Isso fere a quem? Muda a vida de quem? Apenas a de quem vive assim. Para quem não vive e não quer viver assim, não interfere em nada, a não ser que o propósito de vida destas pessoas seja viver a vida dos outros”, defende.
Registro de união poliafetiva
A opinião não é compartilhada pela Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS), organização que acionou o CNJ para pedir que orientasse os cartórios a não registrar uniões poliafetivas como uniões estáveis. Doutora em Direito, a presidente da ADFAS, Regina Beatriz Tavares da Silva, diz que esse tipo de arranjo não encontra amparo na Constituição Federal, que fixa que a união estável é composta por duas pessoas.
Para ela, “nada impede que essas pessoas vivam como bem entenderem. A ADFAS não pede nenhum cerceamento à liberdade dessas pessoas. Mas essas pessoas, no Brasil, não podem ser consideradas pessoas que vivam em unidade familiar. E elas têm que cumprir a lei, que não aceita entidade familiar poligâmica”.
No entendimento de Regina Beatriz essa proibição atende à legislação brasileira: “não cabe a um tabelião de notas dizer que a união estável é formada por duas, três, quatro pessoas. Tabelião de notas não é legislador, tampouco juiz. Desempenha uma função importantíssima, mas que deve estar adstrita [submetida] à lei.”
A possibilidade de reconhecimento deveria ser objeto de discussão e mudança de leis, o que compreenderia também alteração nas regras sobre direitos previdenciários, pagamento de planos de saúde, entre outras. “Se um dia a poligamia for adotada no Brasil e as pessoas quiserem ter aposentadoria, vão ter que pagar [proporcionalmente]. Se não, uma pessoa que vive uma relação monogâmica vai pagar para 10, 15, 20 pessoas”, critica Regina Beatriz.
A controvérsia segue no CNJ. Até agora, dez conselheiros emitiram sua opinião. Ainda faltam seis e não há data para a retomada do julgamento. Enquanto a definição formal não é assegurada, Vernon Bitu acredita que a opção de poliamoristas influencia positivamente familiares, amigos e a sociedade em geral. “As pessoas começam a ver que, realmente, não é uma coisa do outro mundo. Que é um amor normal como qualquer outro, que ninguém precisa se envergonhar por amor. A gente pode se envergonhar por rancor, ódio, outros sentimentos”, destaca.